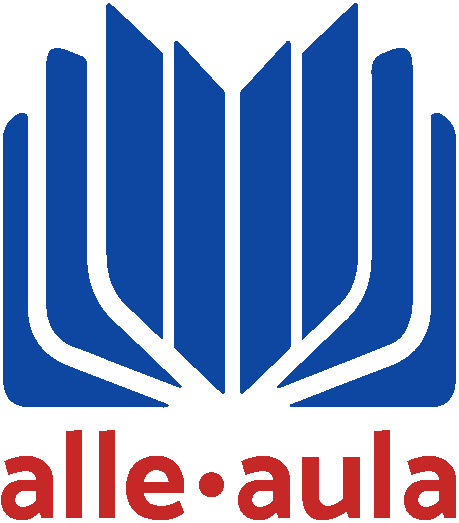Teses e Dissertações
Impactos afetivos da exclusão em estudantes de Ciências Exatas de graduação da Unicamp
Dissertação
Palavras-chave: Ensino superior. Exclusão. Afetividade. Evasão universitária. Desempenho acadêmico.
A inventividade docente na relação entre formação de professoras alfabetizadoras e práticas de ensino de leitura e escrita
Tese
Palavras-chave: Formação de professores. Alfabetização. Leitura. Escrita. Professores alfabetizadores.
Digital ou impresso? A compreensão do texto literário por estudantes do 6º ano da rede estadual paulista
Tese
Palavras-chave: Compreensão na leitura. Literatura infantil. Mídia digital.
Leitura, Escrita, Avaliação, Saberes
: Uma colcha de retalhos sobre uma escola pública do Município de Mogi das Cruzes, SP
Tese
Palavras-chave: não especificado
LEITURA E LITERATURA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS EM MOÇAMBIQUE
: COMO INTEGRÁ-LAS ÀS PRÁTICAS DOCENTES COTIDIANAS?
Dissertação
Palavras-chave: Formação de professores. Ensino. Leitura de literatura. Procedimentos didático-pedagógicos. Moçambique.
Links: https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=553104
Leitura e escrita de textos narrativos em uma escola do campo - uma experiência de ensino-aprendizagem
Tese
Palavras-chave: Educação no campo. Sequência didática. Leitura. Gêneros textuais. Narrativas. Infância
"Mas leitura de Literatura não é só na aula de Língua Portuguesa, prô?"
: Desenvolvendo práticas pedagógicas de Geografia com o auxílio de textos literários.
Dissertação
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Leitura de Literatura; Interdisciplinaridade; Práticas Pedagógicas.
Links: https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1164251
Olhinhos de gato, de Cecília Meireles: história(s) de uma obra
Tese
Palavras-chave: Cecília Meireles; Olhinhos de Gato; Editores e edições; Leitura; Leitores - Formação.
SignWriting no Brasil: (Im)possibilidades educacionais sinalizadas pelos pesquisadores surdos em teses de doutorado e dissertações de mestrado
Tese
Palavras-chave: Estudos Surdos em Educação – SignWriting – Estado da Arte
Um estudo da obra O Curso da língua materna (1892) de João Köpke
Tese
Palavras-chave: Köpke, João, 1852-1926. Manuais escolares. Ensino. Língua materna.